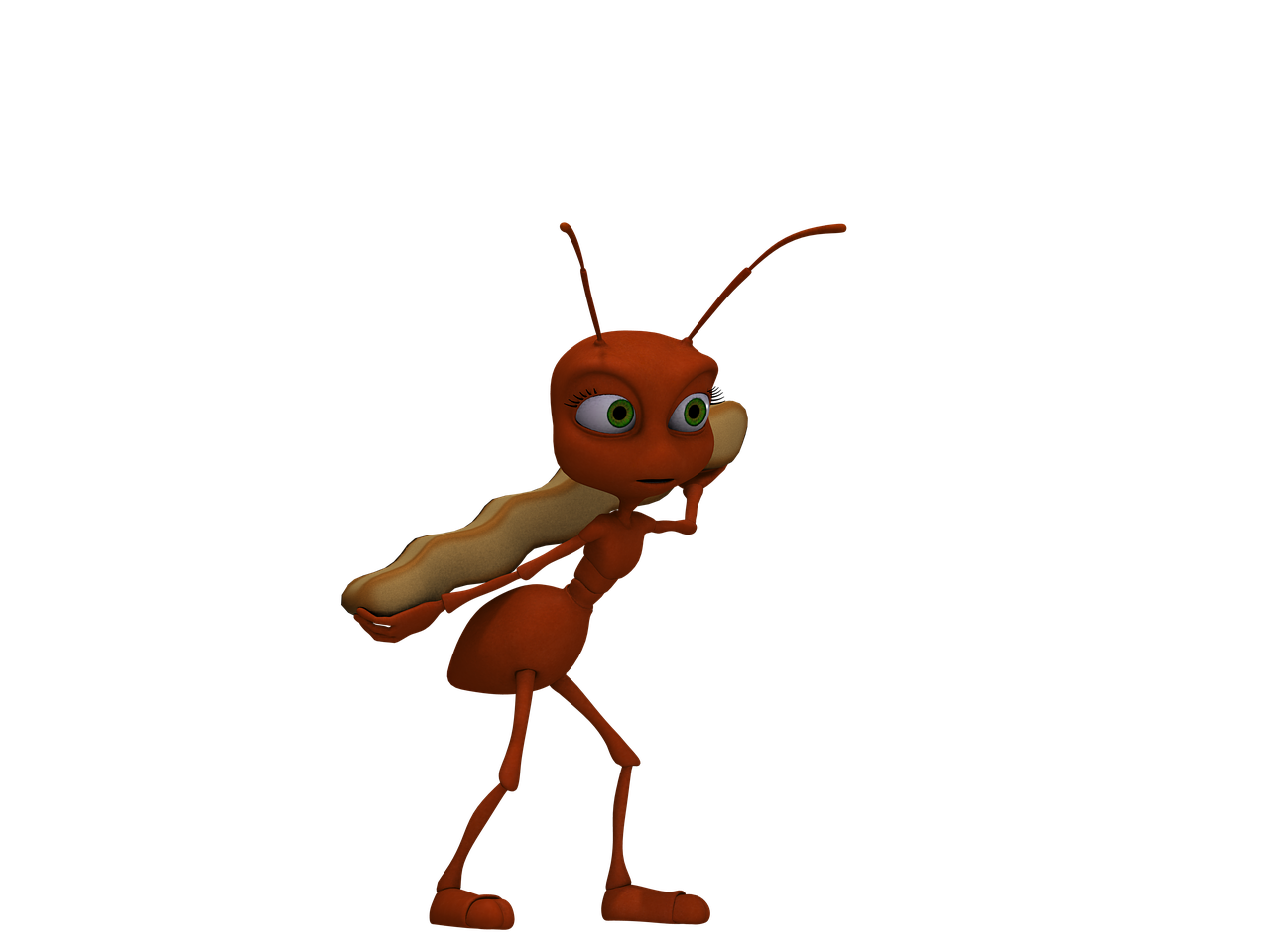Amor
Clarice Lispector
Um pouco cansada, com as compras
deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no bonde. Depositou o volume no colo
e o bonde começou a andar. Recostou-se então no banco procurando conforto, num
suspiro de meia satisfação.
Os filhos de Ana eram bons, uma
coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si,
malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era enfim espaçosa, o
fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos
poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara
lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo
horizonte. Como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não
outras, mas essas apenas. E cresciam árvores. Crescia sua rápida conversa com o
cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque, cresciam seus filhos,
crescia a mesa com comidas, o marido chegando com os jornais e sorrindo de
fome, o canto importuno das empregadas do edifício. Ana dava a tudo,
tranqüilamente, sua mão pequena e forte, sua corrente de vida.
Certa hora da tarde era mais
perigosa. Certa hora da tarde as árvores que plantara riam dela. Quando nada
mais precisava de sua força, inquietava-se. No entanto sentia-se mais sólida do
que nunca, seu corpo engrossara um pouco e era de se ver o modo como cortava
blusas para os meninos, a grande tesoura dando estalidos na fazenda. Todo o seu
desejo vagamente artístico encaminhara-se há muito no sentido de tornar os dias
realizados e belos; com o tempo, seu gosto pelo decorativo se desenvolvera e
suplantara a íntima desordem. Parecia ter descoberto que tudo era passível de
aperfeiçoamento, a cada coisa se emprestaria uma aparência harmoniosa; a vida
podia ser feita pela mão do homem.
No fundo, Ana sempre tivera
necessidade de sentir a raiz firme das coisas. E isso um lar perplexamente lhe
dera. Por caminhos tortos, viera a cair num destino de mulher, com a surpresa
de nele caber como se o tivesse inventado. O homem com quem casara era um homem
verdadeiro, os filhos que tivera eram filhos verdadeiros. Sua juventude
anterior parecia-lhe estranha como uma doença de vida. Dela havia aos poucos
emergido para descobrir que também sem a felicidade se vivia: abolindo-a,
encontrara uma legião de pessoas, antes invisíveis, que viviam como quem
trabalha — com persistência, continuidade, alegria. O que sucedera a Ana antes
de ter o lar estava para sempre fora de seu alcance: uma exaltação perturbada
que tantas vezes se confundira com felicidade insuportável. Criara em troca
algo enfim compreensível, uma vida de adulto. Assim ela o quisera e o
escolhera.
Sua precaução reduzia-se a tomar
cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa estava vazia sem precisar mais
dela, o sol alto, cada membro da família distribuído nas suas funções. Olhando
os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto. Mas na sua vida
não havia lugar para que sentisse ternura pelo seu espanto — ela o abafava com
a mesma habilidade que as lides em casa lhe haviam transmitido. Saía então para
fazer compras ou levar objetos para consertar, cuidando do lar e da família à revelia
deles. Quando voltasse era o fim da tarde e as crianças vindas do colégio
exigiam-na. Assim chegaria a noite, com sua tranqüila vibração. De manhã
acordaria aureolada pelos calmos deveres. Encontrava os móveis de novo
empoeirados e sujos, como se voltassem arrependidos. Quanto a ela mesma, fazia
obscuramente parte das raízes negras e suaves do mundo. E alimentava
anonimamente a vida. Estava bom assim. Assim ela o quisera e escolhera.
O bonde vacilava nos trilhos,
entrava em ruas largas. Logo um vento mais úmido soprava anunciando, mais que o
fim da tarde, o fim da hora instável. Ana respirou profundamente e uma grande
aceitação deu a seu rosto um ar de mulher.
O bonde se arrastava, em seguida
estacava. Até Humaitá tinha tempo de descansar. Foi então que olhou para o
homem parado no ponto.
A diferença entre ele e os
outros é que ele estava realmente parado. De pé, suas mãos se mantinham
avançadas. Era um cego.
O que havia mais que fizesse Ana
se aprumar em desconfiança? Alguma coisa intranqüila estava sucedendo. Então
ela viu: o cego mascava chicles… Um homem cego mascava chicles.
Ana ainda teve tempo de pensar
por um segundo que os irmãos viriam jantar — o coração batia-lhe violento,
espaçado. Inclinada, olhava o cego profundamente, como se olha o que não nos
vê. Ele mascava goma na escuridão. Sem sofrimento, com os olhos abertos. O
movimento da mastigação fazia-o parecer sorrir e de repente deixar de sorrir,
sorrir e deixar de sorrir — como se ele a tivesse insultado, Ana olhava-o. E
quem a visse teria a impressão de uma mulher com ódio. Mas continuava a
olhá-lo, cada vez mais inclinada — o bonde deu uma arrancada súbita jogando-a
desprevenida para trás, o pesado saco de tricô despencou-se do colo, ruiu no
chão — Ana deu um grito, o condutor deu ordem de parada antes de saber do que
se tratava — o bonde estacou, os passageiros olharam assustados.
Incapaz de se mover para apanhar
suas compras, Ana se aprumava pálida. Uma expressão de rosto, há muito não
usada, ressurgia-lhe com dificuldade, ainda incerta, incompreensível. O moleque
dos jornais ria entregando-lhe o volume. Mas os ovos se haviam quebrado no
embrulho de jornal. Gemas amarelas e viscosas pingavam entre os fios da rede. O
cego interrompera a mastigação e avançava as mãos inseguras, tentando
inutilmente pegar o que acontecia. O embrulho dos ovos foi jogado fora da rede
e, entre os sorrisos dos passageiros e o sinal do condutor, o bonde deu a nova
arrancada de partida.
Poucos instantes depois já não a
olhavam mais. O bonde se sacudia nos trilhos e o cego mascando goma ficara
atrás para sempre. Mas o mal estava feito.
A rede de tricô era áspera entre
os dedos, não íntima como quando a tricotara. A rede perdera o sentido e estar
num bonde era um fio partido; não sabia o que fazer com as compras no colo. E
como uma estranha música, o mundo recomeçava ao redor. O mal estava feito. Por
quê? Teria esquecido de que havia cegos? A piedade a sufocava, Ana respirava
pesadamente. Mesmo as coisas que existiam antes do acontecimento estavam agora
de sobreaviso, tinham um ar mais hostil, perecível… O mundo se tornara de novo
um mal-estar. Vários anos ruíam, as gemas amarelas escorriam. Expulsa de seus
próprios dias, parecia-lhe que as pessoas da rua eram periclitantes, que se
mantinham por um mínimo equilíbrio à tona da escuridão — e por um momento a
falta de sentido deixava-as tão livres que elas não sabiam para onde ir.
Perceber uma ausência de lei foi tão súbito que Ana se agarrou ao banco da
frente, como se pudesse cair do bonde, como se as coisas pudessem ser
revertidas com a mesma calma com que não o eram.
O que chamava de crise viera
afinal. E sua marca era o prazer intenso com que olhava agora as coisas,
sofrendo espantada. O calor se tornara mais abafado, tudo tinha ganho uma força
e vozes mais altas. Na Rua Voluntários da Pátria parecia prestes a rebentar uma
revolução, as grades dos esgotos estavam secas, o ar empoeirado. Um cego
mascando chicles mergulhara o mundo em escura sofreguidão. Em cada pessoa forte
havia a ausência de piedade pelo cego e as pessoas assustavam-na com o vigor
que possuíam. Junto dela havia uma senhora de azul, com um rosto. Desviou o
olhar, depressa. Na calçada, uma mulher deu um empurrão no filho! Dois
namorados entrelaçavam os dedos sorrindo… E o cego? Ana caíra numa bondade
extremamente dolorosa.
Ela apaziguara tão bem a vida,
cuidara tanto para que esta não explodisse. Mantinha tudo em serena
compreensão, separava uma pessoa das outras, as roupas eram claramente feitas
para serem usadas e podia-se escolher pelo jornal o filme da noite – tudo feito
de modo a que um dia se seguisse ao outro. E um cego mascando goma despedaçava
tudo isso. E através da piedade aparecia a Ana uma vida cheia de náusea doce,
até a boca.
Só então percebeu que há muito
passara do seu ponto de descida. Na fraqueza em que estava, tudo a atingia com
um susto; desceu do bonde com pernas débeis, olhou em torno de si, segurando a
rede suja de ovo. Por um momento não conseguia orientar-se. Parecia ter saltado
no meio da noite.
Era uma rua comprida, com muros
altos, amarelos. Seu coração batia de medo, ela procurava inutilmente
reconhecer os arredores, enquanto a vida que descobrira continuava a pulsar e
um vento mais morno e mais misterioso rodeava-lhe o rosto. Ficou parada olhando
o muro. Enfim pôde localizar-se. Andando um pouco mais ao longo de uma sebe,
atravessou os portões do Jardim Botânico.
Andava pesadamente pela alameda
central, entre os coqueiros. Não havia ninguém no Jardim. Depositou os
embrulhos na terra, sentou-se no banco de um atalho e ali ficou muito tempo.
A vastidão parecia acalmá-la, o
silêncio regulava sua respiração. Ela adormecia dentro de si.
De longe via a aléia onde a
tarde era clara e redonda. Mas a penumbra dos ramos cobria o atalho.
Ao seu redor havia ruídos
serenos, cheiro de árvores, pequenas surpresas entre os cipós. Todo o Jardim
triturado pelos instantes já mais apressados da tarde. De onde vinha o meio
sonho pelo qual estava rodeada? Como por um zunido de abelhas e aves. Tudo era
estranho, suave demais, grande demais.
Um movimento leve e íntimo a
sobressaltou — voltou-se rápida. Nada parecia se ter movido. Mas na aléia
central estava imóvel um poderoso gato. Seus pêlos eram macios. Em novo andar
silencioso, desapareceu.
Inquieta, olhou em torno. Os
ramos se balançavam, as sombras vacilavam no chão. Um pardal ciscava na terra.
E de repente, com mal-estar, pareceu-lhe ter caído numa emboscada. Fazia-se no
Jardim um trabalho secreto do qual ela começava a se aperceber.
Nas árvores as frutas eram
pretas, doces como mel. Havia no chão caroços secos cheios de circunvoluções,
como pequenos cérebros apodrecidos. O banco estava manchado de sucos roxos. Com
suavidade intensa rumorejavam as águas. No tronco da árvore pregavam-se as
luxuosas patas de uma aranha. A crueza do mundo era tranqüila. O assassinato
era profundo. E a morte não era o que pensávamos.
Ao mesmo tempo que imaginário —
era um mundo de se comer com os dentes, um mundo de volumosas dálias e tulipas.
Os troncos eram percorridos por parasitas folhudas, o abraço era macio, colado.
Como a repulsa que precedesse uma entrega — era fascinante, a mulher tinha
nojo, e era fascinante.
As árvores estavam carregadas, o
mundo era tão rico que apodrecia. Quando Ana pensou que havia crianças e homens
grandes com fome, a náusea subiu-lhe à garganta, como se ela estivesse grávida
e abandonada. A moral do Jardim era outra. Agora que o cego a guiara até ele,
estremecia nos primeiros passos de um mundo faiscante, sombrio, onde
vitórias-régias boiavam monstruosas. As pequenas flores espalhadas na relva não
lhe pareciam amarelas ou rosadas, mas cor de mau ouro e escarlates. A
decomposição era profunda, perfumada… Mas todas as pesadas coisas, ela via com
a cabeça rodeada por um enxame de insetos enviados pela vida mais fina do
mundo. A brisa se insinuava entre as flores. Ana mais adivinhava que sentia o
seu cheiro adocicado… O Jardim era tão bonito que ela teve medo do Inferno.
Era quase noite agora e tudo
parecia cheio, pesado, um esquilo voou na sombra. Sob os pés a terra estava
fofa, Ana aspirava-a com delícia. Era fascinante, e ela sentia nojo.
Mas quando se lembrou das
crianças, diante das quais se tornara culpada, ergueu-se com uma exclamação de
dor. Agarrou o embrulho, avançou pelo atalho obscuro, atingiu a alameda. Quase
corria — e via o Jardim em torno de si, com sua impersonalidade soberba.
Sacudiu os portões fechados, sacudia-os segurando a madeira áspera. O vigia
apareceu espantado de não a ter visto.
Enquanto não chegou à porta do
edifício, parecia à beira de um desastre. Correu com a rede até o elevador, sua
alma batia-lhe no peito — o que sucedia? A piedade pelo cego era tão violenta
como uma ânsia, mas o mundo lhe parecia seu, sujo, perecível, seu. Abriu a
porta de casa. A sala era grande, quadrada, as maçanetas brilhavam limpas, os
vidros da janela brilhavam, a lâmpada brilhava — que nova terra era essa? E por
um instante a vida sadia que levara até agora pareceu-lhe um modo moralmente
louco de viver. O menino que se aproximou correndo era um ser de pernas
compridas e rosto igual ao seu, que corria e a abraçava. Apertou-o com força,
com espanto. Protegia-se tremula. Porque a vida era periclitante. Ela amava o
mundo, amava o que fora criado — amava com nojo. Do mesmo modo como sempre fora
fascinada pelas ostras, com aquele vago sentimento de asco que a aproximação da
verdade lhe provocava, avisando-a. Abraçou o filho, quase a ponto de
machucá-lo. Como se soubesse de um mal — o cego ou o belo Jardim Botânico? —
agarrava-se a ele, a quem queria acima de tudo. Fora atingida pelo demônio da
fé. A vida é horrível, disse-lhe baixo, faminta. O que faria se seguisse o
chamado do cego? Iria sozinha… Havia lugares pobres e ricos que precisavam
dela. Ela precisava deles… Tenho medo, disse. Sentia as costelas delicadas da
criança entre os braços, ouviu o seu choro assustado. Mamãe, chamou o menino.
Afastou-o, olhou aquele rosto, seu coração crispou-se. Não deixe mamãe te
esquecer, disse-lhe. A criança mal sentiu o abraço se afrouxar, escapou e
correu até a porta do quarto, de onde olhou-a mais segura. Era o pior olhar que
jamais recebera. Q sangue subiu-lhe ao rosto, esquentando-o.
Deixou-se cair numa cadeira com
os dedos ainda presos na rede. De que tinha vergonha?
Não havia como fugir. Os dias
que ela forjara haviam-se rompido na crosta e a água escapava. Estava diante da
ostra. E não havia como não olhá-la. De que tinha vergonha? É que já não era
mais piedade, não era só piedade: seu coração se enchera com a pior vontade de
viver.
Já não sabia se estava do lado
do cego ou das espessas plantas. O homem pouco a pouco se distanciara e em
tortura ela parecia ter passado para o lados que lhe haviam ferido os olhos. O
Jardim Botânico, tranqüilo e alto, lhe revelava. Com horror descobria que
pertencia à parte forte do mundo — e que nome se deveria dar a sua misericórdia
violenta? Seria obrigada a beijar um leproso, pois nunca seria apenas sua irmã.
Um cego me levou ao pior de mim mesma, pensou espantada. Sentia-se banida
porque nenhum pobre beberia água nas suas mãos ardentes. Ah! era mais fácil ser
um santo que uma pessoa! Por Deus, pois não fora verdadeira a piedade que
sondara no seu coração as águas mais profundas? Mas era uma piedade de leão.
Humilhada, sabia que o cego
preferiria um amor mais pobre. E, estremecendo, também sabia por quê. A vida do
Jardim Botânico chamava-a como um lobisomem é chamado pelo luar. Oh! mas ela
amava o cego! pensou com os olhos molhados. No entanto não era com este
sentimento que se iria a uma igreja. Estou com medo, disse sozinha na sala.
Levantou-se e foi para a cozinha ajudar a empregada a preparar o jantar.
Mas a vida arrepiava-a, como um
frio. Ouvia o sino da escola, longe e constante. O pequeno horror da poeira
ligando em fios a parte inferior do fogão, onde descobriu a pequena aranha.
Carregando a jarra para mudar a água – havia o horror da flor se entregando
lânguida e asquerosa às suas mãos. O mesmo trabalho secreto se fazia ali na
cozinha. Perto da lata de lixo, esmagou com o pé a formiga. O pequeno
assassinato da formiga. O mínimo corpo tremia. As gotas d’água caíam na água
parada do tanque. Os besouros de verão. O horror dos besouros inexpressivos. Ao
redor havia uma vida silenciosa, lenta, insistente. Horror, horror. Andava de
um lado para outro na cozinha, cortando os bifes, mexendo o creme. Em torno da
cabeça, em ronda, em torno da luz, os mosquitos de uma noite cálida. Uma noite
em que a piedade era tão crua como o amor ruim. Entre os dois seios escorria o
suor. A fé a quebrantava, o calor do forno ardia nos seus olhos.
Depois o marido veio, vieram os
irmãos e suas mulheres, vieram os filhos dos irmãos.
Jantaram com as janelas todas
abertas, no nono andar. Um avião estremecia, ameaçando no calor do céu. Apesar
de ter usado poucos ovos, o jantar estava bom. Também suas crianças ficaram
acordadas, brincando no tapete com as outras. Era verão, seria inútil
obrigá-las a dormir. Ana estava um pouco pálida e ria suavemente com os outros.
Depois do jantar, enfim, a primeira brisa mais fresca entrou pelas janelas.
Eles rodeavam a mesa, a família. Cansados do dia, felizes em não discordar, tão
dispostos a não ver defeitos. Riam-se de tudo, com o coração bom e humano. As
crianças cresciam admiravelmente em torno deles. E como a uma borboleta, Ana
prendeu o instante entre os dedos antes que ele nunca mais fosse seu.
Depois, quando todos foram
embora e as crianças já estavam deitadas, ela era uma mulher bruta que olhava
pela janela. A cidade estava adormecida e quente. O que o cego desencadeara
caberia nos seus dias? Quantos anos levaria até envelhecer de novo? Qualquer
movimento seu e pisaria numa das crianças. Mas com uma maldade de amante,
parecia aceitar que da flor saísse o mosquito, que as vitórias-régias boiassem
no escuro do lago. O cego pendia entre os frutos do Jardim Botânico.
Se fora um estouro do fogão, o
fogo já teria pegado em toda a casa! pensou correndo para a cozinha e deparando
com o seu marido diante do café derramado.
— O que foi?! gritou vibrando
toda.
Ele se assustou com o medo da
mulher. E de repente riu entendendo:
— Não foi nada, disse, sou um
desajeitado. Ele parecia cansado, com olheiras.
Mas diante do estranho rosto de
Ana, espiou-a com maior atenção. Depois atraiu-a a si, em rápido afago.
— Não quero que lhe aconteça
nada, nunca! disse ela.
— Deixe que pelo menos me
aconteça o fogão dar um estouro, respondeu ele sorrindo.
Ela continuou sem força nos seus
braços. Hoje de tarde alguma coisa tranqüila se rebentara, e na casa toda havia
um tom humorístico, triste. É hora de dormir, disse ele, é tarde. Num gesto que
não era seu, mas que pareceu natural, segurou a mão da mulher, levando-a
consigo sem olhar para trás, afastando-a do perigo de viver.
Acabara-se a vertigem de
bondade.
E, se atravessara o amor e o seu
inferno, penteava-se agora diante do espelho, por um instante sem nenhum mundo
no coração. Antes de se deitar, como se apagasse uma vela, soprou a pequena
flama do dia.
Extraído no livro Laços de Família, Editora Rocco –
Rio de Janeiro, 1998